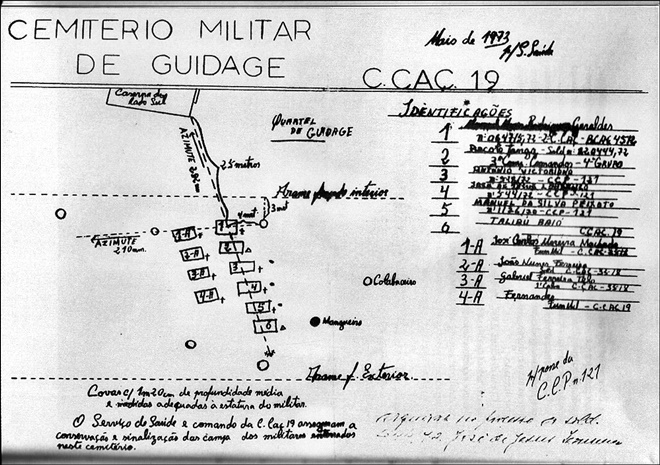|
| Ilustração do que poderia ter sido o Mirage IIIEPL com as cores da época |
A intensificação da guerra nesta colónia levou a FAP a procurar um novo avião de combate capaz de executar quer missões de combate aéreo quer de ataque terrestre. A escolha recaiu no caça supersónico francês Mirage. No entanto, as negociações entre os dois países seriam difíceis com a França a levantar várias restrições quanto ao uso dos aviões nas colónias portuguesas, principalmente na Guiné.
Ao longo de 1974, a questão dos Mirage é discutida várias vezes com as autoridades francesas, que insistem em não permitir o estacionamento dos aviões na Guiné por causa das relações privilegiadas que Paris tem com o Senegal.
O número de aviões negociado (32 unidades) indica claramente que, além da Guiné, era também intenção do Governo português enviar o caça francês para Angola e Moçambique, mas a história secreta dos Mirage portugueses acabaria com a Revolução de Abril, embora a França acabasse por autorizar a venda deste caça de elevada performance.
O problema dos caças americanos
Na longa lista de aviões analisados, o Mirage surge como o preferido, pois segundo o documento é “o avião cujas características mais se aproximam das especificações propostas, não obstante ser monomotor.” Ainda na lista de preferências, o Northrop F-5A surge como segunda opção e o Phantom F-4C, como terceira, embora o governante português admita que a pouca compreensão dos EUA em relação à política portuguesa em África, não permita a aquisição de qualquer avião de origem americana, restando apenas o Mirage.(4) De facto, Washington tinha uma posição crítica sobre a guerra colonial portuguesa e era praticamente impossível que vendesse qualquer tipo de avião que pudesse ser usado em África, restando a Portugal apenas a opção francesa.
O bom aliado francês
A França torna-se assim no maior fornecedor de armas a Portugal entre 1964 e 1971, com vendas que ascendem a 700 milhões de francos franceses. (6)
Mas, com a chegada de Georges Pompidou ao Eliseu, em 1969, a política externa francesa começa a mudar verificando-se uma maior aproximação aos países africanos, designadamente os de língua francesa, uma política que vai provocar problemas nos fornecimentos de armas a Portugal. Basta dizer que no período de 1972/1974 as vendas francesas decaem para 190 milhões de francos, o que mostra bem a mudança de relação entre Paris e Lisboa. Um sinal desta mudança é dado pelo próprio ministro dos Estrangeiros francês, Maurice Schumann, ao seu homólogo português, Rui Patrício, durante uma visita que este faz a Paris em Janeiro de 1971. Durante as conversações no Quai d’Orsay, o governante francês refere claramente que “a França tinha acordos muito rigorosos com os Estados francófonos e um acordo mesmo de defesa com o Senegal” e que Portugal devia evitar criar problemas com o Senegal.(7) Esta extrema sensibilidade da França em relação ao Senegal marcará todo o processo de negociações em torno dos Mirage.
Os primeiros contactos
De facto, em 21 e 22 de Dezembro, Viana Rebelo desloca-se a Paris para tratar da renovação do acordo das Flores e dos problemas pendentes relativos ao fornecimento de material de guerra por parte da França. Rebelo encontra-se com o ministro de Estado e da Defesa, Michel Debré, e a discussão incide principalmente na renovação do acordo luso-francês dos Açores, assim como nas encomendas de material de guerra que estavam atrasadas. (9) Rebelo é, certamente, informado nessa altura que, poucos dias antes, a questão dos Mirage tinha sido debatida na Comissão Interministerial de Estudos de Exportação de Material de Guerra (CIEEMG na sigla francesa), uma comissão constituída por delegados de 5 ministérios e que decide a venda ou não de material bélico ao exterior.(10)
O pedido português
Só em 1973 é que a posição portuguesa sobre os Mirage sofre alguma evolução e, no início de Março, Viana Rebelo contacta o embaixador francês em Lisboa, novamente com a intenção de comprar o caça da Dassault. O ministro reafirma o interesse português no avião e que a decisão final depende de conversações com o Ministério das Finanças. Rebelo refere ainda que “os encargos militares são pesados”, mas que a aquisição de caças a reacção figura na lista de prioridades do governo. Em resposta, o embaixador francês faz notar ao ministro que qualquer decisão francesa estará sempre “subordinada à conclusão de um acordo sobre o estacionamento dos aparelhos”. (16) Já depois deste contacto, Viana Rebelo faz chegar às autoridades francesas, o interesse português em comprar entre 50 a 100 aviões Mirage F1.(17) Este novo pedido é analisado em reunião do CIEEMG, a 20 de Dezembro, mantendo-se as restrições que já existiam antes em relação ao pedido anterior. Mas, não deixa de ser surpreendente, a magnitude do pedido e o interesse português por um modelo tão recente que seria certamente muito mais caro do que o Mirage III ou 5. Entretanto, em Junho, uma delegação da FAP liderada pelo próprio general CEMFA, visita o salão Bourget, onde manifesta interesse pelo Mirage 5, pelo F1 e também pelo Alpha Jet. (18)
Um novo titular na Defesa
Em Janeiro de 1974, Silva Cunha recebe um memorando do secretário de Estado da Aeronáutica, general Tello Polleri, com uma série de aquisições previstas, num valor global de 5,8 milhões de contos.(20) O documento é depois revisto em Fevereiro em termos de valores e prevê a aquisição de várias aeronaves destinadas à Força Aérea: 68 helicópteros Alouette III, 1 helicóptero SA 330 Puma, 50 aviões de transporte C-212 Aviocar, 120 aviões Reims-Cessna FTB 337 e ainda um lote de 32 Mirage 5. É já evidente nesta altura, que Portugal tem grandes dificuldades em adquirir material de guerra e que só em França e Espanha é que pode comprar aviões. O memorando descarta definitivamente a hipótese do Mirage F1 por ser demasiado cara e pelo facto do prazo de entrega ser cerca de 4 anos e aponta o Mirage 5 como a opção mais adequada. O documento refere ainda que o preço unitário desta versão de ataque, mais ferramentas, componentes e sobressalentes é de 103 mil contos (versão monolugar) e 108 mil contos (versão bilugar), embora possa ter algumas variações ao longo do período de fornecimento, estimado entre 2 a 3 anos. É também referida a intenção da Força Aérea em adquirir mais aviões Fiat G.91 para continuar a assegurar as missões de ataque até dispor dos Mirage e que necessita para isso, de uma reserva financeira de 500 mil contos, o que implica que o número dos Mirage passe de 32 para 25 aparelhos.
Não é referida a origem dos Fiat, mas pelo valor envolvido presume-se que sejam aviões de origem alemã já usados. Em Dezembro de 1973, a Força Aérea tem conhecimento que a Luftwaffe pretende desactivar durante o ano de 1974, 50 a 60 jactos G.91 R/3 com uma média de 1800 a 2000 horas de voo e existe interesse da parte portuguesa em comprar alguns destes aviões.(21) O problema é que o Governo alemão proibiu a venda dos G.91 a qualquer país estrangeiro, justamente com o receio que o destino final seja sempre Portugal. (22) Bona não quer ver mais Fiat de origem alemã envolvidos na guerra de África e não está disponível para fazer qualquer cedência a este nível. O general Tello Polleri ainda tenta explorar junto de Espanha a possibilidade destes aviões serem comprados pelas Construcciones Aeronáutica S.A (CASA), para depois serem vendidos a Portugal, mas sem sucesso.(23)
Todas estas aquisições dependem obviamente do financiamento extraordinário previsto pelas Finanças e que está a ser negociado com a África do Sul sob a forma de um empréstimo. Depois de alguns meses de negociações, o acordo final é assinado no dia 8 de Março de 1974, pelo embaixador português em Pretória e o South África Reserve Bank, sendo o empréstimo de 150 milhões de rands (6 milhões de contos no câmbio da época). O empréstimo é negociado em condições muito vantajosas para Portugal com uma taxa de juro de 3%, sendo o dinheiro transferido em prestações mensais de 5 milhões de rands até um máximo de 50 milhões por ano e durante um período de 3 anos. (24) Ao abrigo do acordo, a primeira prestação de 5 milhões de rands é disponibilizada e Silva Cunha pode assim prosseguir com as negociações relativas ao Mirage. O dinheiro sul-africano chega numa altura em que se avolumam na Guiné indícios de uma eventual ameaça aérea por parte da Guiné-Conakry.
O problema da Guiné
O pedido do Mirage para a Guiné é reforçado pelo próprio comandante da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné (ZACVG), o coronel Moura Pinto, durante uma visita que o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), o general Costa Gomes, faz à Guiné em Junho de 1973, para avaliar a situação militar no terreno. Costa Gomes recebe do comando militar em Bissau uma longa lista de pedidos de tropas e de armamento em que constam 12 aviões Mirage pedidos por Moura Pinto. A ideia do comandante da ZACVG é substituir completamente os T-6G e os Fiat pelo caça francês. (26)
Entretanto, começam a surgir notícias no domínio público de que a guerrilha está a treinar pilotos na União Soviética para usar aviões MiG a partir da Guiné-Conacri. Um jornal que dá eco deste assunto é o inglês Daily Telegraph que, a 2 de Agosto de 1973, publica um artigo da autoria do correspondente em Lisboa, o jornalista Bruce Loudon, em que diz que a guerrilha “está apenas a seis meses de atingir uma capacidade de ataque aéreo com caças MiG russos.” O jornalista refere ainda que cerca de 40 guerrilheiros estão a receber cursos de pilotagem na Rússia. (27) Começam, assim, a circular notícias sobre o possível uso de meios aéreos por parte da guerrilha ou do envolvimento da própria Força Aérea Guineana (FAG) em acções contra as tropas portuguesas. Do outro lado da fronteira, os MiG-17F da FAG estão praticamente parados, mas com ajuda de militares cubanos, começam a aumentar o seu grau de operacionalidade. Pilotos e técnicos cubanos chegam a Conacri em Fevereiro e Maio de 1973 e incrementam os voos de patrulha na zona de fronteira, de forma a precaver incursões portuguesas em território guineano. (28)
Preocupado com a situação militar na Guiné, o chefe do Governo, dá ordens para que a pequena colónia seja dotada de novos meios de defesa aérea (29), usando para esse efeito o empréstimo sul-africano. Neste seguimento, o Ministério da Defesa encomenda, em França, em Janeiro de 1974, dois pelotões de mísseis Crotale R440, um deles para a defesa de Bissau, ficando prevista a entrega do primeiro para Maio de 1974 e a do segundo 18 meses depois para a defesa de Cabinda. (30) Existem receios em Angola, de que a compra de caças Mirage 5 pelo Zaire possa constituir uma ameaça aérea para aquele território rico em petróleo. Desenvolvem-se também contactos junto do Departamento de Estado norte-americano para a compra de mísseis portáteis FIM-43A Redeye, que serão depois fornecidos por “caminhos tortuosos” por sugestão de Henry Kissinger, envolvendo Israel e um intermediário alemão, pois os americanos não os podiam fornecer directamente devido ao embargo de armas. (31) São também analisados sistemas de radar para o controle do espaço aéreo. Neste contexto, faltava apenas um avião com elevada capacidade retaliação sobre os países vizinhos, que pudesse dissuadir qualquer ataque aéreo contra a Guiné portuguesa. O Mirage encaixava bem nesse papel, o problema era a forma como a sua presença seria encarada pelos países limítrofes. E é isso que preocupa os governantes franceses.
As restrições francesas
 |
| Mirage IIIEZ sul-africano |
Já depois desta troca de correspondência, o assunto é discutido na CIEEMG e Galley não aceita a posição do representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e considera que as restrições de estacionamento dos Mirage devem ser apenas aplicadas à Guiné portuguesa e a Cabo Verde. Perante a falta de consenso, a questão é remetida ao primeiro-ministro Pierre Messmer, que acaba por concordar com a posição do ministro da Defesa.
O Mirage IIIEPL
 |
| Mirage IIIE francês |
A hipótese de usar estes jactos em Angola, já tinha sido formulada em 1972, com vista a substituir os F-84G que operavam naquela colónia,(38) mas o secretário de Estado da Aeronáutica, Pereira no Nascimento, tinha dado na altura parecer negativo a esta hipótese, desaconselhando “a integração do Impala na frota de aeronaves do Ultramar”. (39)
Em relação ao prazo de entrega, o Governo francês compromete-se a entregar os primeiros 6 aviões (3 monolugares e 3 bilugares) em Dezembro de 74, na hipótese de que seja assinado um contrato até ao final de Abril, o que supera as expectativas portuguesas que esperavam os primeiros aviões só em 1976. Em relação aos pilotos e técnicos, o compromisso é no sentido de que 6 pilotos e 10 mecânicos possam começar a sua formação em França em Novembro, um mês antes da entrega dos aviões. Quanto à utilização dos aparelhos em África, a proibição de estacionamento na Guiné e nas ilhas de Cabo Verde mantém-se. (40) Obviamente que a posição francesa não agrada ao Governo português, que considera inaceitável que os caças sejam proibidos de operar a partir de Cabo Verde.
O ministro Silva Cunha manifesta desagrado com este tipo de exigência (41) e o assunto chega também ao conhecimento do ministro dos Estrangeiros, Rui Patrício, que já no dia 24 de Março, tinha abordado o assunto com o ministro Jobert durante um breve encontro no aeroporto de Lisboa. No referido encontro, Jobert tinha manifestado ao ministro português as suas reservas quanto ao estacionamento dos aviões na Guiné, pois seria uma situação que não deixaria de provocar rumores e problemas à diplomacia francesa em África.(42) Em resposta, Patrício dá a entender que a questão dos Mirage pode ser vinculada à cooperação franco-portuguesa na ilha das Flores, dando como exemplo o acordo americano da base das Lajes, que Lisboa tinha hesitado em renovar devido aos problemas que a sua utilização, durante a guerra de Yom Kippur, tinha provocado entre Portugal e os países árabes. O governante português estava, naquela altura, a negociar com o Departamento de Estado norte-americano a permanência americana nos Açores e as negociações estavam a ser difíceis, pois Washington não fornecia a Portugal uma série de equipamento militar que o Governo português exigia no âmbito das contrapartidas do acordo das Lajes. Além dos mísseis Redeye para a defesa da Guiné, Lisboa queria também 4 aviões de transporte C-130 Hércules, que os EUA não queriam fornecer devido ao uso que poderiam ter em África. (43) No entanto, a argumentação de Patrício não tem qualquer efeito em Jobert, nem na posição do Governo francês. Para a diplomacia francesa, o que importa são as relações com as antigas colónias e não a política colonial portuguesa.
Na véspera da revolução
Ironicamente, por essa altura, a venda terá sido autorizada pelo primeiro-ministro francês, Pierre Messmer, embora com a referida restrição. Sabemos isso por uma nota da DAEF, que, em finais de Maio desse ano, referia claramente que a venda de 32 Mirage IIIE tinha sido aprovada pelo primeiro-ministro pelo valor de 750 milhões de francos (MF), mas com a restrição dos aviões não serem enviados para a Guiné Bissau, nem para as ilhas de Cabo Verde, uma limitação com a qual o Governo português não tinha concordado. (44) A DAEF considera também que o novo governo saído da revolução de Abril não dará, provavelmente, seguimento à compra dos Mirage devido às perspectivas de independência que se tinham criado em relação à Guiné Bissau. Uma observação correcta, pois com o fim da guerra, a prioridade era sair de África e o Mirage deixava de fazer sentido.
Agradecimentos: Christophe Villecroix do Arquivo do Ministère des Affaires Étrangères et Européenne pela ajuda na pesquisa e também ao Arquivo Histórico da Força Aérea (SDFA/AHFA), ao Arquivo da Defesa Nacional (ADN), ao Arquivo Histórico Diplomático e ao Arquivo Histórico-Militar.
(1) Estudo do rearmamento da Força Aérea no âmbito da directiva de 10 de Fevereiro de 1969 do CEMGFA – Arquivo da Defesa Nacional (ADN), F3/23/52/2.
(2) Estudo de Rearmamento da Força Aérea, Estado Maior da Força Aérea, 31 de Maio de 1969, SDFA/AHFA.
(3) Informação do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea para o Secretário de Estado da Aeronáutica, Assunto: Estudo de Rearmamento da Força Aérea, 23 de Janeiro de 1970 (SDFA/AHFA).
(4) Ofício nº 289 do Secretário de Estado da Aeronáutica para o Ministro da Defesa Nacional, 19 de Abril de 1971, ADN, F1/07/35/51.
(5) Carta da Embaixada de Portugal em França para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, 3 de Abril de 1971, Arquivo Histórico Diplomático (AHD), PEA 685.
(6) Nota da Direcção dos Assuntos Económicos e Financeiros para o Gabinete do Ministro, Assunto: Venda de armamento a Portugal, 19 de Fevereiro de 1976, Archive du Ministère des Affaires Étrangères (AMAE), Europe 1971-1976 - Portugal- Caixa 3501.
(7) Apontamento de Luís Navega, Chefe de Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as conversações no Quai D`Orsay de 21 e 22 de Janeiro de 1971, 2 de Fevereiro de 1971, AHD, PEA Confidencial, Maço 23.
(8) Nota da Embaixada Francesa em Lisboa para o Director dos Assuntos Políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 26 de Novembro de 1971, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(9) Memorando da Comissão Luso-Francesa, Assunto: Acordo Luso-Francês sobre os Açores e fornecimentos de material de guerra francês, 16 de Outubro de 1972, ADN, F1/7/31/19.
(10) Relatório da 1ª reunião Luso-Francesa para revisão do acordo geral de 7 de Abril de 64, Comissão Luso-Francesa, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 15 de Julho de 1971, ADN/F1/7/31/19.
(11) Nota n.º 137 da Direcção da Europa para o Ministro, 18 de Dezembro de 1973, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(12) Silva Cunha, “O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril” Atlântida Editora, Coimbra, 1977, p. 312.
(13) Telegrama nº 216-219 da Embaixada de França em Lisboa, 17 de Maio de 1972, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(14) Nota n.º 260 da Direcção dos Assuntos Económicos e Financeiros para o Gabinete do Ministro, 19 de Maio de 1972, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(15) Memorando da Comissão Luso-Francesa, Assunto: Acordo Geral Luso-Francês sobre os Açores - Material de guerra francês, 12 de Dezembro de 1972, ADN/F1/7/31/19.
(16) Telegrama nº 158-159 da Embaixada Francesa em Lisboa para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1 de Março de 1973, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(17) Nota da Direcção da Europa Meridional para a Direcção dos Assuntos Económicos e Financeiros, 18 de Dezembro de 1973, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(18) Ficha de vendas de armamento a Portugal, 14 de Dezembro de 1973, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(19) Silva Cunha, p. 312
(20) Memorando da Secretaria de Estado da Aeronáutica, Assunto: Programa de Forças – Aquisições Previstas (1ª revisão), 4 de Fevereiro de 1974, SDFA/AHFA.
(21) Memorando do Estado-Maior da Força Aérea, 25 de Janeiro de 1974, SDFA/AH, 3ª Divisão/EMFA 71/74, Processo 400.121.
(22) Carta de Alberto Maria Bravo & Filhos, Assunto: Aviões G-91, 4 de Dezembro de 1973, AHD PEA 655.
(23) Carta do Secretário de Estado da Aeronáutica para o General Enrique Jimenez Benamu, 25 de Fevereiro de 1974, AHD PEA 655.
(24) Memorial sobre o acordo do empréstimo de 150 milhões de rands firmados com a R.A.S., Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), 18 de Setembro de 1975, ADN F3/20/48/64.
(25) Acta da reunião de 24 de Abril de 1973, na biblioteca do EMFA, sobre a ameaça antiaérea no Ultramar, pp. 9 e 21, ADN F3/17/37/64.
(26) Anexo D à acta da reunião de Comandos de 15 de Maio de 1973, Bissau, Arquivo Histórico Militar AHM/DIV/2/4/314/2.
(27) Bruce Loudon, “Portuguese rebels to get Russian MiGs” Daily Telegraph, 2 de Agosto de 1973, ADN, SGDN 3500.
(28) Humberto Trujillo Hernández, El Grito del Baobab, Editorial de Ciencias Sociales, Havana, 2008, pp. 110-111.
(29) Marcello Caetano, Depoimento, Rio de Janeiro, Record, 1974, p. 180
(30) Silva Cunha, p. 318.
(31) João Hall Themido “Dez anos em Washington 1971-1981”, Publicações Dom Quixote, 1995, pp. 145-146.
(32) Carta n.º 7221 do Ministro da Defesa para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Assunto: Encomenda eventual de Mirages por Portugal, 20 de Fevereiro de 1974, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(33) Salvador Huertas, Dassault-Breguet Mirage III/5, Osprey Air Combat, Londres, 1990, p. 134.
(34) Nota nº 23/DAM-2 da Direcção dos Assuntos Africanos e Malgaxes, Assunto: Encomenda eventual de Mirages por Portugal, 27 de Fevereiro de 1974, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(35) Jack Gee, Mirage – warplane for the world, Macdonald, Londres, 1971, p. 65.
(36) Ficha para M. De Margerit: Aviões Mirage para Portugal (estacionamento), 11 de Abril de 1974, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(37) Nota nº 1632 c/p do Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola para o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Assunto: Necessidade de aviões de caça a jacto para a 2ª RA, 4 de Maio de 1974, ADN/Fundo Geral Cx.7702.
(38) Nota do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Assunto: Cedência de Aviões de Ataque ao Solo, sem data, ADN/F1/42/186/59.
(39) Ofício nº 620 do Secretário de Estado da Aeronáutica para o Ministro da Defesa Nacional, Assunto: Aviões Aeromachi MB-326M (Impala), 7 de Julho de 1972, ADN, F1/42/186/62.
(40) Nota nº 75133 do Ministro da Defesa para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Assunto: Aviões de combate para Portugal, 11 de Abril de 1974, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(41) Silva Cunha, “O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril”, Atlântida Editora, Coimbra, 1977, p. 319.
(42) Silva Cunha, “O Ultramar, a Nação e o 25 de Abril”, Atlântida Editora, Coimbra, 1977, p. 319.Nota sobre o encontro entre M. Jobert e M. Patrício no aeroporto de Lisboa, no dia 24 de Março de 1974, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
(43) Carta do ministro dos Negócios Estrangeiros para o embaixador de Portugal em Washington, Lisboa, 23 de Abril de 1974, ADN, F3/14/29/4.
(44) Nota da Direcção dos Assuntos Económicos e Financeiros, Assunto: Venda de armamento a Portugal, 31 de Maio de 1974, AMAE, Europe 1971-1976 - Portugal - Caixa 3501.
Artigo publicado em duas partes nas revistas Mais Alto de Nov/Dez 2012 e Jan/Fev de 2013